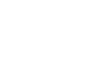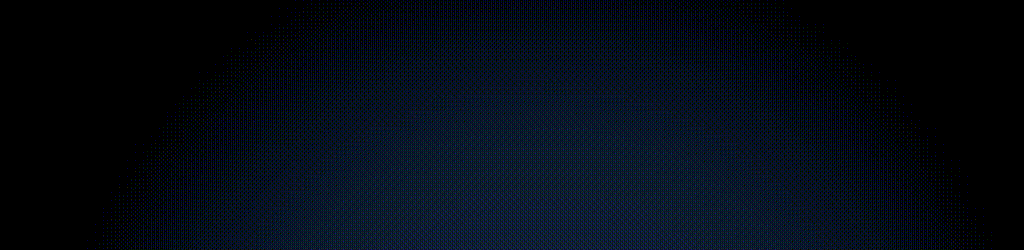Três notáveis romances chegados ao nosso mercado livreiro mobilizam-nos para o reencontro, porventura uma primeira relação, com outros tantos autores distinguidos com o Nobel da Literatura.
São eles: o alemão Hermann Hesse (1877-1962), o japonês Yasunari Kawabata (1899-1972) e a britânica Doris Lessing (1919-2013) – “nobelizados” em 1946, 1968 e 2007, respetivamente.
São histórias de famílias que, implicitamente, nos alertam para o esquematismo de muitas linguagens do nosso quotidiano. De facto, a noção mediática de família tem sido parasitada por narrativas mais ou menos formatadas.
Por vezes, importa reconhecê-lo, estão em jogo valores de absoluta urgência social e política: quando se trata de defender as mais básicas condições de existência de cada um e, justamente, do seu agregado familiar.
Ainda assim, outras vezes (em boa verdade, todos os dias), a noção de família é manipulada para servir os desígnios mais simplistas: observe-se a demagogia moralista do tratamento do espaço familiar em alguns “talk shows” televisivos, ou ainda as representações caricaturais (e, claro, consumistas) desse mesmo espaço em muitos formatos da publicidade audiovisual.
Sentimos, por isso, a falta de outras narrativas, diferentes histórias que saibam reconhecer a complexidade, por vezes os mistérios inacessíveis, das relações humanas. Não para reduzir essa complexidade a “sermões” supostamente universais.
Não para confundir a criação artística com a produção de relatórios sociológicos (com o devido respeito pela importância desses mesmos relatórios). Falamos de histórias que nasçam do gosto, e também do risco, de lidar com as evidências, os contrastes e contradições do fator humano – Hesse, Kawabata e Lessing são, nessas matérias, professores de invulgar talento.
Se quisermos inscrever os livros em determinados contextos históricos, talvez possamos dizer que os três remetem para momentos de muitas transformações sociais e, nessa medida, também familiares.
O caso de Hans – Sob o Peso das Rodas, de Hesse, será o mais sintomático, quanto mais não seja porque sabemos que há nele variados ecos autobiográficos: o escritor revisita as memórias próximas da sua condição de estudante, de alguma maneira levando-nos a reconhecer que o ambiente de eufórica transfiguração civilizacional (finais do século XIX) aconteceu a par de um empobrecimento, porventura um esvaziamento, dos valores clássicos da identidade individual.
Mesmo sem querer forçar os “paralelismos” possíveis, vale a pena recordar que um outro jovem, também de nome Hans, surgiria, em 1924, no centro de um romance, também alemão, marcado pelo intimismo da mesma tragédia: A Montanha Mágica, de Thomas Mann.
O caso de O Arco-Íris, de Kawabata, adquire uma dimensão universal através da sábia “teatralização” das suas situações. Isto porque a importância decisiva dos diálogos lhe confere a singular energia de uma narrativa que podia ser “transformada” em acontecimento de palco, ou ainda (porque não?) em guião de um objeto cinematográfico.
Neste caso, os traumas do pós-guerra na sociedade japonesa definem um pano de fundo que não tem nada de “decorativo”, uma vez que se manifesta, ponto por ponto, nas mais discretas nuances do comportamento de cada personagem.
Que natureza?
O Quinto Filho, de Doris Lessing, por certo aquele em que descortinamos sinais mais próximos da nossa contemporaneidade – afinal de contas, é uma história que começa no interior do misto de euforia e ilusões dos sixties -, lida com um assombramento que nenhuma época consegue vencer.
A saber: a diferença amarga, por vezes radical, entre a crença numa natureza redentora e a estranheza que pode marcar os nossos laços… naturais. Lembremos que o “quinto filho” é uma figura monstruosa (não no sentido de um banal filme de terror) que vai abalar todos os equilíbrios familiares.
Mesmo evitando confundir aquilo que é muito diferente, não será deslocado considerar que a problemática humana da natureza – ou melhor, a natureza como problema eminentemente humano – não é alheia às escritas de Hesse e Kawabata. No caso do alemão, há mesmo um ziguezague campo/cidade cuja nostalgia cedo se decompõe em inesperada amargura.
Quanto ao japonês, o “arco-íris” do título é uma visão muito real que pontua sucessivos momentos do romance, inclusive através de uma reprodução do quadro de Jean-François Millet, A Primavera (1868-1873, guardado no Museu d’Orsay), em que há um arco-íris como fundamental elemento de composição – não poderia haver melhor resumo do desejo humano de eternizar as maravilhas efémeras do mundo natural.
HANS – SOB O PESO DAS RODAS
Hermann Hesse
(Publicações Dom Quixote)
Os livros vivem através dos diferentes momentos em que os encontramos: lemo-los e relemo-los através das nossas próprias transformações. Por vezes, são também os livros que se transformam.
Como? Por exemplo, através das respetivas traduções. Esta edição abre com uma “Nota do tradutor” particularmente esclarecedora, isto porque Paulo Rêgo foi também o tradutor da anterior edição portuguesa do romance de Hermann Hesse, publicada com o título Hans (Difel, 2000): a tradução “no essencial mantém-se a mesma”.
Mas além de algumas diferenças entre as versões originais utilizadas as “alterações decorrem do facto de, passados vinte anos, não se traduzir da mesma maneira que vinte anos antes.”
Publicado em 1906, este segundo romance de Hermann Hesse (o emblemático Siddhartha surgiria em 1922) é habitualmente citado como um trabalho contaminado por muitas componentes autobiográficas – desde logo, porque através da personagem central ecoam as memórias do autor enquanto estudante, mas também porque os cenários “duplicam” diversos aspetos da cidade de Calw, no sul da Alemanha, onde Hesse nasceu.
Para lá da desmontagem de um modelo de ensino manipulador das personalidades dos alunos, encontramos aqui as dores do “despontar” das almas que, enfrentando as incertezas da vida adulta, vislumbram a possibilidade de regressar “à apreensiva infância onde tudo começou.”
A história dos livros não é um catálogo de coincidências, mas eis um registo incontornável: foi também em 1906 que surgiu O Jovem Törless, do austríaco Robert Musil.
Yasunari Kawabata
(Publicações Dom Quixote)
As irmãs Asako e Momoko são filhas do mesmo pai, mas de mães diferentes. Vivem assombradas pela possibilidade de encontrarem uma terceira irmã que sabem que existe, mas que desapareceu da sua história…
Aliás, “isso” a que chamam a sua história possui qualquer coisa de impossível, de tal modo parece dispersar-se através de curtas cenas em que, quase sempre, a brevidade do que se diz transporta avalanches de coisas que ficam por dizer.
Por vezes gerando interrogações dilacerantes: “Estás a dizer que, se alguém que amamos morrer, o amor que partilhamos com esse alguém também morre?”
Traduzido por Francisco Agarez (a partir da versão inglesa), datado de 1950-1951, este é um romance porventura menos conhecido que outros livros de Yasunari Kawabata (com destaque para Terra de Neve, 1948). Quanto mais não seja por vício cinéfilo, talvez possamos aproximá-lo do cinema de Yasujiro Ozu (1903-1963) – curiosamente, em 1950, Ozu realizou um filme intitulado As Irmãs Munekata.
Através de diálogos de ambígua transparência, também aqui encontramos esse misto de pudor emocional e contundência moral que pode definir os territórios familiares, num jogo de palavras e silêncios em que cada um, ainda que de modo inconsciente, aposta as razões da sua identidade.
Mais ainda, por certo espelhando toda uma dramaturgia social e política, este é também um fresco sobre o Japão pós-Segunda Guerra Mundial, um mundo em que, no limite, cada homem ou cada mulher pode descobrir que transporta as culpas de outra personagem.
O QUINTO FILHO
Doris Lessing
(Bertrand Editora)
O desafio às ideias feitas (sobretudo mal feitas) que sustentam as sociedades humanas é um princípio temático que sempre surgiu associado à escrita de Doris Lessing – convenhamos que, de Memórias de uma Sobrevivente (1974) a A Boa Terrorista (1985), argumentos não faltarão para sustentar tal descrição, de alguma maneira ilustrada também por O Quinto Filho, original de 1988, agora traduzido por Cristina Rodriguez.
Se quisermos ser apenas esquemáticos, algo deterministas, diremos que este é um romance que desafia o património histórico, as leis e a mitologia do amor entre pais e filhos – de pais para filhos, de filhos para pais. Ben, o “quinto filho” de Harriet e David Lovatt, um casal que vive num recanto da felicidade postiça dos anos 60 do século passado, é essa entidade que vem baralhar a vida da sua família, instaurando um tempo de inusitadas violências que começa, aliás, nas convulsões do seu nascimento.
Lessing não escreve para confirmar (ou desmentir) as leis de uma determinada ordem, seja ela familiar ou biológica, moral ou social. No limite, talvez possamos dizer que qualquer noção de ordem desaparece no interior das fronteiras desse verdadeiro campo de batalha que é a vida da família Lovatt.
Como se qualquer vínculo humano fosse um assombramento sem fim: “(…) quando ela o rodeava com os seus braços não havia resposta, não havia calor, era como se ele não sentisse o toque dela.” Por alguma razão, a autora sentiu a necessidade de lidar com os próprios fantasmas que despertou, escrevendo, doze anos mais tarde, a sequela Ben, in the World.
Fonte e crédito da imagem: Diário de Notícias / Portugal