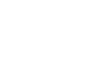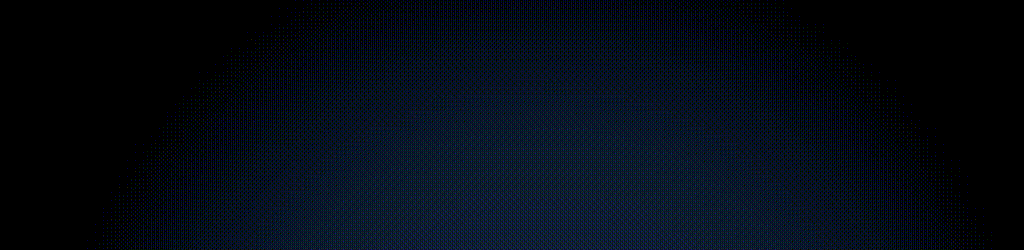Pelé morreu esta quinta-feira aos 82 anos. O antigo internacional brasileiro estava internado e o seu estado de saúde tinha-se agravado nas últimas semanas, o que levou a família a passar esta quadra junto do pai no hospital.
O Rei do futebol sofria há anos de um cancro no cólon e estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A notícia foi avançada pela AP, citando o agente, e depois confirmada pela filha nas redes sociais.
A 8 de março de 1958, os leitores da revista brasileira Manchete Esportiva tiveram o privilégio de ler o futuro em primeira mão, como se um vidente lhes oferecesse o número do próximo bilhete premiado na grande lotaria.
Assinada por um dos nomes maiores da escrita brasileira do século XX, o jornalista-escritor-dramaturgo-génio das letras e das crónicas sociais Nélson Rodrigues, rezava assim a crónica sobre um jogo entre América do Rio de Janeiro e Santos, ocorrido dias antes:
“Examino a ficha de Pelé e tomo um susto: dezassete anos! Há certas idades que são aberrantes, inverosímeis. Uma delas é a de Pelé. Eu, com mais de quarenta, custo a crer que alguém possa ter dezassete anos, jamais. Pois bem: verdadeiro garoto, o meu personagem anda em campo com uma dessas autoridades irresistíveis e fatais. Dir-se-ia um rei, não sei se Lear, se imperador Jones, se etíope. Racialmente perfeito, do seu peito parecem pender mantos invisíveis. Em suma: ponham-no em qualquer rancho e a sua majestade dinástica há de ofuscar toda a corte em derredor. O que nós chamamos de realeza é, acima de tudo, um estado de alma. E Pelé leva sobre os demais jogadores uma vantagem considerável: – a de se sentir rei, da cabeça aos pés.”
O Rei. Ainda antes de o mundo se render a seus pés ou sequer saber verdadeiramente quem era esse tal de Pelé, já Nélson Rodrigues lhe tirara as medidas. Dizem que os grandes se reconhecem uns aos outros, não é? Pois então não podia deixar de ser assim. E o jornalista cunhou-lhe o destino que o mundo inteiro haveria de comprovar logo depois.
O Rei Pelé, nascido Edson Arantes do Nascimento no dia 21 de outubro de 1940 na cidade de Três Corações (Minas Gerais), morreu esta quinta-feira, aos 82 anos, com a imortalidade garantida pela memória coletiva que o elegeu como o melhor futebolista do século XX, o primeiro grande ícone global produzido nos relvados.
Para a história ficam marcas eternas como os (polémicos) 1283 golos marcados enquanto profissional de futebol, os três títulos mundiais, o primeiro com apenas 17 anos, ou, por exemplo, os 58 golos que apontou numa só edição do campeonato paulista com a camisola do Santos, coisas que mais nenhum jogador conseguiu até hoje.
Mas Pelé foi muito mais do que uma soma de números e recordes incríveis. Foi, durante o seu tempo, o sinónimo mais perfeito de futebol. Recorrendo a outro famoso jornalista brasileiro de então, Armando Nogueira, “se Pelé não tivesse nascido homem teria nascido bola”.
Num tempo sem internet nem redes sociais, e em que o futebol ainda só aparecia de vez em quando nas televisões a preto e branco, foi o grande embaixador do jogo pelo mundo, a quem até as elitistas Nova Iorque e Hollywood (LA) se renderam.

O filho de Dondinho. De Dico a Pelé
Recuemos até ao berço, porque a história de Pelé é daquelas que merecem ser contadas desde o início. Filho de Dona Celeste Arantes e de João Ramos do Nascimento, também ele um jogador de futebol conhecido pela alcunha de Dondinho, Pelé nasceu na cidade mineira de Três Corações e foi batizado como Edson Arantes do Nascimento, um nome que se acendeu na ideia dos pais como homenagem ao génio que inventou a lâmpada (Thomas Edison).
Nele, o génio baixou-lhe no pé. Pelé. Em Três Corações, o pequeno Dico – a sua primeira alcunha, inventada pelo tio Jorge e adotada pela mãe, que sempre assim o tratou – viveu apenas três anos, saindo para acompanhar a carreira futebolística do pai. E foi numa dessas paragens da carreira de Dondinho, também ele um avançado com arte para espalhar golos por onde passava, em São Lourenço, que acabaria por nascer a alcunha que virou nome de rei do futebol.
Pelé nasceu da dificuldade em pronunciar Bilé, um guarda-redes que partilhava equipa com o pai no Vasco de São Lourenço, em meados dos 1940. E, de início, não foi alcunha que o pequeno Edson aceitasse de ânimo leve. Contou-o o próprio, ao jornal The Guardian, em 2006.
“Todo o mundo, é claro, me conhece como Pelé. Mas lembro-me que o nome realmente me incomodou no início. Eu tinha muito orgulho por ter o nome de Thomas Edison e queria ser chamado de Edson. Pelé parecia horrível, era uma porcaria. Edson parecia muito mais sério e importante. Então, quando alguém dizia: “Ei, Pelé”, eu reagia aos gritos, ficava com raiva. Numa ocasião, dei um soco a um colega por causa disso e ganhei uma suspensão de dois dias. Previsivelmente, isso não teve o efeito desejado. As outras crianças perceberam que isso me incomodava e começaram a chamar-me de Pelé ainda mais. Então percebi que não dependia de mim a forma como sou chamado. Agora amo o nome, mas naquela época aquilo irritava-me”.
E Pelé ficou. Ou melhor, ficaria, mas não sem antes inscrever ainda uma outra alcunha naquele que foi o seu primeiro golo de sempre como profissional: Gasolina, o apelido que os jogadores do Santos lhe colocaram no primeiro treino que fez com a equipa principal, pela velocidade e cor de pele.
Foi assim, como Gasolina, que, aos 15 anos, Pelé fez o primeiro dos seus mais de mil golos, num particular do Santos contra o Corinthians de Santo André, entrando aos 16 minutos do segundo tempo para o lugar de Del Vecchio. O Santos ganhou por 7-1 e “Gasolina” marcou o sexto da equipa – um facto comprovado recentemente com o aparecimento da ficha do jogo.
Dico (antes de Gasolina e de Pelé, recorde-se) tinha ido parar ao Santos pela mão de Waldemar de Brito, o homem que lhe detetara o talento invulgar nos campos de peladinhas de Bauru, cidade do interior de São Paulo para onde Pelé se mudara aos quatro anos, com a família, para acompanhar um novo capítulo da vida desportiva do pai.
O Clube Atlético de Bauru, também conhecido por “Baquinho”, foi a primeira equipa “a sério” do rei do futebol, por volta dos 11 anos, convencido por aquele ex-jogador. Pouco depois, Waldemar de Brito encaminhou a joia rara para o Santos, com a promessa: “Esse menino vai ser o melhor jogador do mundo.” Waldemar também já percebera o filme. Nelson Rodrigues trataria de o difundir com a pompa e mestria das suas crónicas da época.
Os primeiros golos no Maracanã, contra o… Belenenses
Em poucos meses, após a estreia pela equipa principal, o fenómeno Pelé irrompeu pela sociedade brasileira. A 19 de junho de 1957, o destino do futuro rei cruza-se pela primeira vez com uma equipa portuguesa.
Depois de um punhado de jogos e de golos pelas reservas do Santos, o jovem craque foi escolhido para uma equipa mista entre jogadores do Santos e do Vasco da Gama que iriam disputar a Taça Morumbi, um torneio particular com equipas brasileiras e estrangeiras, no Rio de Janeiro e em São Paulo.
Com a cruzmaltina do Vasco ao peito (como o jogo era no Rio, o equipamento escolhido foi o da equipa carioca ligada à comunidade portuguesa), o adversário era o Belenenses de Matateu e Vicente (este último, com quem teria um reencontro amargo no Mundial de 1966), e o menino de 16 anos apresentou-se ao Maracanã com três golos na goleada de 6-1 sobre a equipa do Restelo. Os seus primeiros golos no Maracanã, os seus primeiros golos internacionais.
O jogo (e esse torneio, no qual marcou em todos os jogos) pôs Pelé definitivamente nas bocas e páginas de jornais dos brasileiros. Valeu-lhe mesmo a assinatura do primeiro contrato como profissional com o Santos. E lançou o seu nome para as equações da convocatória para a seleção que no ano seguinte (1958) iria disputar a “Copa” do Mundo, na Suécia.
Depois da brilhante aparição na Taça Morumbi, Sílvio Cirilo, selecionador da época, convocou-o de imediato para vestir as cores do Brasil na Copa Roca de 1957, dois jogos contra a Argentina que valeram a Pelé a estreia, primeiro golo e primeiro título internacional com o escrete, aos 16 anos.
Por isso, naquela crónica de 8 de março de 1958, poucos dias antes de sair a convocatória de Vicente Feola – o selecionador escolhido para conduzir o Brasil no Mundial da Suécia -, Nelson Rodrigues resumia o sentimento que alastrava numa espécie de burburinho coletivo: “Hoje, até uma cambaxirra sabe que Pelé é imprescindível na formação de qualquer escrete. Na Suécia, ele não tremerá de ninguém. Há de olhar os húngaros, os ingleses, os russos de alto a baixo. Não se inferiorizará diante de ninguém. E é dessa atitude viril e, mesmo, insolente, que precisamos.”
E prosseguia: “Sim, amigos: – aposto minha cabeça como Pelé vai achar todos os nossos adversários uns pernas de pau. Por que perdemos, na Suíça, para a Hungria? Examinem a fotografia de um e outro time entrando em campo. Enquanto os húngaros erguem o rosto, olham duro, empinam o peito, nós baixamos a cabeça e quase babamos de humildade.
Esse flagrante, por si só, antecipa e elucida a derrota. Com Pelé no time, e outros como ele, ninguém irá para a Suécia com a alma dos vira-latas. Os outros é que tremerão diante de nós.”
A 31 de março saiu a pré-convocatória de Vicente Feola. E o nome de Pelé estava lá entre os 31 eleitos. O jovem atacante do Santos sobreviveu aos cortes finais de Feola, mas quase não “sobreviveria” a uma dura entrada do corintiano Ari Clemente, num jogo-treino realizado três dias antes da viagem programada para a Suécia. Pelé ficou a rebolar no chão, agarrado ao joelho direito, e saiu lesionado, com a dúvida no ar: teria ou não condições para jogar no Mundial?

A revelação mundial na Suécia, contra a vontade do psicólogo
A decisão não foi fácil e envolveu debate. Tanto o psicólogo como o então presidente da CBF (e mais tarde presidente da FIFA) João Havelange achavam um erro levar um menino inexperiente lesionado. “Pelé é obviamente infantil. Falta-lhe o necessário espírito de luta. É jovem demais para sentir as agressões e reagir com a força adequada…”, rezava o relatório do psicólogo João Carvalhães.
Mas, para bem da maior lenda do futebol, prevaleceu a garantia do médico Hilton Gosling: Pelé podia ir à “Copa”, mas não estaria apto para o primeiro jogo. Para o jovem santista, chegava a possibilidade de cumprir a promessa feita ao pai, oito anos antes, quando Dondinho chorava, de ouvido colado ao rádio, a derrota brasileira no Maracanazo, como ficou eternizado o jogo em que o Brasil perdeu, no Maracanã, a final do Mundial de 1950, para o Uruguai. “Naquele dia prometi-lhe que iria ganhar uma Copa para ele”, recordou Pelé, depois de cumprir a promessa.
O mundo estava prestes a conhecer então o rei do futebol anunciado meses antes por Nelson Rodrigues. Por acréscimo, e por acaso, também o homem que eternizou o 10 como o número mais importante do sistema de numeração futebolístico.
Essa é uma das histórias que enriquecem a lenda. Alegadamente, a Confederação Brasileira falhou o prazo para envio da numeração dos convocados para a FIFA e coube a um funcionário desta, o uruguaio Lorenzo Vilizio, membro do Comité Organizador do Mundial, a escolha e distribuição dos números pelos 22 craques brasileiros.
Gilmar, o guarda-redes, ficou com o nº 3. Zózimo, um “anónimo” central da reserva, ficou com a “camisa 9”. Didi, que sempre fora o 8 no Botafogo, recebeu a 6. Garrincha e Zagallo trocaram o 7 pelo 11 e vice-versa. Ao menino Pelé coube em sorte a 10. Profético.
Tal como previsto, o jovem atacante do Santos viu de fora a vitória do Brasil frente à Áustria, no primeiro jogo da Copa, e também o nulo no jogo seguinte contra a Inglaterra. Ao terceiro jogo na prova, Feola lançou Pelé. E ele não demorou a reclamar o trono a que estava destinado.
Com Pelé, foi lançado também Garrincha – numa dupla que se tornaria mítica para a seleção brasileira, que nunca perdeu com os dois em campo – para o jogo decisivo com a URSS do grande guarda-redes Lev Yashin. E o que aconteceu logo após o apito inicial foi aquilo a que Gabriel Hanot, um antigo futebolista francês jornalista no L’Equipe que foi o criador da Taça dos Campeões Europeus (atual Liga dos Campeões), chamou “os três minutos mais incríveis da história do futebol”.
Pelé e Garrincha destroçaram a militarizada defesa soviética, e Vavá marcou para o Brasil ao fim de três minutos e duas bolas na barra. No dia seguinte à vitória brasileira por 2-0, Lev Yashin foi ao hotel da seleção brasileira entregar um vaso de porcelana como recordação a Pelé, “o melhor do mundo”.
A partir daí, o novo fenómeno brasileiro foi imparável: contra o País de Gales fez um golo antológico que valeu a vitória – o primeiro de 12 golos que marcaria em Mundiais de futebol; no jogo seguinte, nas meias-finais frente à França,o primeiro hat-trick, num triunfo por 5-2 que deixou então a imprensa francesa rendida: “nasceu um novo rei do futebol”. A coroação chegou, definitivamente, com mais dois golos na final frente à Suécia (novo 5-2).
Com Pelé, o Brasil “deixou para trás o complexo de vira-latas” que perseguia a nação desde o Maracanazo de 1950, celebrou Nelson Rodrigues. Com Pelé, o número 10 deixou de ser apenas mais um número, para simbolizar a realeza. O número do rei do futebol.
O golo de placa, o túnel a Eusébio e o pesadelo com Morais
A partir daí, Pelé e o 10 ficaram eternamente ligados. E associados a uma ideia de “jogo bonito” que se colou à seleção brasileira como espécie de legado cultural – em 1970, Pelé lideraria até um escrete de cinco 10’s [jogadores com essas características] na conquista do seu terceiro título mundial. Não foi a única marca registada do Rei.
Também lhe ficaram ligados o famoso drible de vaca (meter a bola por um lado do defesa e ir buscar por outro), a paradinha no penálti ou aquela imagem de um Pelé no ar, em suspenso, a festejar os golos com um murro no ar – uma celebração que terá começado em 1959, como protesto contra as vaias das bancadas num jogo entre Santos e Juventus de S. Paulo.
Em paralelo com as façanhas na seleção, Pelé reforçava o protagonismo com golos, títulos e recordes incríveis com a camisola do Santos. Nesse mesmo ano de 1958 – ainda com 17 anos, recorde-se – terminou o campeonato estadual paulista com um inaudito registo de 58 golos marcados: nunca antes feito, nunca depois repetido.
Entre 1959 e 1961, com Pelé insaciável, o Santos conquistou 11 títulos internacionais, com a equipa brasileira requisitada para torneios em vários cantos do mundo. Em março de 1961, num jogo frente ao Fluminense, recebeu a bola na entrada da sua própria área e correu todo o comprimento do campo, deixando para trás os adversários que lhe saíram ao caminho com sucessivas fintas antes de chutar a bola para o fundo das redes.
O “gol mais bonito da história do Maracanã” ganhou direito a uma placa de bronze afixada no estádio. Assim nasceu “o golo de placa”, expressão cunhada pelo jornalista Joelmir Beting.
Com Pelé, a equipa da Vila Belmiro somou dez títulos de campeã paulista e seis de campeão brasileiro (nas diferentes versões que antecederam o atual Brasileirão), invariavelmente com o 10 como o goleador e figura principal da equipa.
Em 1962, já o mundo estava em suspenso para ver nova aparição de Pelé e do Brasil no principal palco futebolístico. No Chile, os campeões do mundo repetiam a mesma seleção de 58. Aos 21 anos, Pelé chegava em pleno. Na primeira partida, frente ao México, marcou um golo na vitória por 2-0 e saiu eufórico. Mas no segundo jogo, frente à Checoslováquia, sofreu uma lesão muscular e não mais jogaria na prova que valeu o bicampeonato mundial ao Brasil, deixando o foco principal para Mané Garrincha.
Bicampeão do mundo com um sabor agridoce, Pelé vingaria a frustração causada pela lesão no Mundial quando, no final desse ano de 1962, se cruzou com o Benfica de Eusébio na Taça Intercontinental. Depois de uma vitória pela margem mínima em São Paulo, por 3-2, o Santos tinha de enfrentar a segunda mão na Luz, em Lisboa, perante o bicampeão europeu em título. Foi a 11 de outubro de 1962 e ficou na memória coletiva como o melhor jogo dessa geração dourada do Santos de Pelé.
Aos 25 minutos, o craque já tinha marcado por duas vezes a Costa Pereira e chegaria ainda ao hat-trick na segunda metade, num jogo em que os brasileiros passaram como um ciclone de futebol pelo Estádio da Luz (5-2). Para a história ficou ainda mais uma obra de antologia de Pelé, que driblou vários benfiquistas de uma área à outra antes de picar a bola sobre Costa Pereira num dos seus golos. Até o árbitro francês Pierre Schinter se rendeu e foi abraçar o rei.
“Eu fui para o jogo à espera de parar um grande homem, mas saí convencido de que fui destruído por alguém que não nasceu no mesmo planeta que nós”, terá desabafado o guarda-redes do Benfica, Costa Pereira. “Pelé não estava num dia normal”, reconheceria, mais tarde, Eusébio, a quem o brasileiro fez até um raro “túnel” durante esse jogo.
Quatro anos depois, Pelé ficaria com recordações bem mais amargas do reencontro com portugueses. No caso, a seleção de Portugal, em pleno Mundial de 1966. O encontro deu-se na terceira e última jornada da fase de grupos e o Brasil tinha obrigatoriamente de ganhar para poder continuar a defender os títulos ganhos nas edições anteriores, depois de ter perdido contra a Hungria no segundo jogo.
Pelé tinha ficado de fora do desafio com os húngaros, depois de ter sido muito fustigado pelos defesas búlgaros na partida de abertura. Contra Portugal, se o Brasil não precisasse, o craque talvez até nem fosse a jogo. Como não foi Garrincha.
Mas a necessidade era absoluta e Pelé entrou em campo para um jogo que ficou famoso pela marcação dura e implacável do defesa português Morais – o mesmo que dois anos antes dera ao Sporting a sua única conquista europeia (a extinta Taça das Taças), com o famoso cantinho do Morais.
Uma dupla entrada mais “viril” do defesa luso ao minuto 30 do duelo ficou na história dos Mundiais, praticamente arrumando Pelé da partida, numa altura em que, refira-se, Portugal já ganhava por 2-0 (golos de Simões e Eusébio). O craque brasileiro ficou vários minutos a receber assistência fora de campo e voltou a entrar apenas para fazer figura de corpo presente, numa altura em que não eram permitidas ainda substituições.
Morais revelaria que se limitou a cumprir as ordens de “não largar Pelé de vista”, missão que repartiu na perfeição com os outros colegas de defesa, como Vicente. Portugal ganhou por 3-1 e embalou para o seu histórico 3.º lugar. Brasil e o Pelé despediram-se dessa Copa de forma amarga.
O rei ainda em fevereiro de 2019 recordou esse momento com uma foto do regresso ao Brasil e a legenda: “Esse sou eu depois que o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra. Eu jurei nunca mais jogar outra. A lição é que você nunca deve ter medo de mudar de ideia”.

O tri depois da polémica com Saldanha
Pelé mudou de ideias. Jogou uma “Copa” mais, em 1970, para se despedir da forma como ficou eternizado: como rei do futebol – com um inédito, ainda hoje, tricampeonato mundial no currículo. Mas não sem antes ter sido também protagonista numa das mais fortes polémicas da história do futebol brasileiro, que levou o selecionador (jornalista e militante comunista) João Saldanha a ser destituído por influência da ditadura militar do general Medici, poucas semanas antes do Mundial do México.
O escrete de Saldanha tinha maravilhado toda a gente com uma fase de qualificação imaculada nos resultados e sedutora no futebol, para levantar o moral da nação deixado de rastos na Copa anterior, mas a insubmissão do “João sem medo”, como ficou imortalizado Saldanha, às vontades da ditadura militar (em especial o pedido do presidente Médici para que fosse convocado o atacante do At. Mineiro Dadá Maravilha) levou a que o selecionador caísse antes da Copa de 1970.
Mas a relação entre Saldanha e Pelé também não era a melhor e o técnico chegou mesmo a dizer que saía porque no seu time “Pelé não ia jogar mais”. A verdade é que Pelé estava longe da forma ideal, o seu futebol começava a ser questionado pela imprensa e Saldanha agitou até o debate com referência à miopia do jogador do Santos, que o impediria de “jogar direito”.
Saldanha saiu, entrou Mário Zagallo para dirigir a seleção brasileira no Mundial do México. Pelé foi convocado e voltou a ser ele o melhor do mundo, numa seleção que fez ressurgir o futebol arte com uma constelação de craques do meio-campo para a frente: Gérson, Rivelino, Jairzinho, Tostão e Pelé, os míticos cinco “10”.
O rei despediu-se em grande do maior palco, com um terceiro título mundial e quatro golos marcados. Além dos golos, deixou para a história, nesse Mundial, os não golos mais célebres do futebol: o remate do meio de campo contra a Checoslováquia, o drible de corpo no guarda-redes uruguaio Mazurkiewicz, ou a cabeçada que proporcionou ao inglês Gordon Banks uma das mais difíceis (e famosas) defesas de todos os tempos. Puras jogadas de cinema do ícone que globalizou o desporto rei e o levou mesmo até à tela da sétima arte. Mas a isso já lá vamos.
Guerras suspensas para ver Pelé e o poema do golo mil
Antes, ainda antes até do terceiro título mundial que o eternizou no trono, Pelé já era o grande embaixador do desporto rei pelo mundo. As suas digressões com o Santos pelo estrangeiro eram uma espécie de atração circense itinerante paga a peso de ouro, com Pelé a atrair multidões de fãs por onde passava. Por ele, o mundo como que parava.
Aliás, em 1967, parou mesmo guerras civis no Congo e na Nigéria, durante uma digressão do clube paulista a África, com as partes em conflito a acordarem cessar-fogos temporários só para ver Pelé jogar. Em 1968, na Colômbia, tiraram de campo um árbitro que tinha tido a ousadia de expulsar Pelé, num jogo de exibição entre o Santos e a seleção olímpica colombiana.
A 19 de novembro de 1969, mais um feito histórico para engrandecer a lenda. No mesmo Maracanã em que já tinha marcado o seu primeiro golo internacional (ao Belenenses, em 1957) e o seu primeiro golo pela seleção – e dezenas de outros mais ao longo dos anos -, Pelé teve, frente ao Vasco da Gama, a oportunidade de chegar a um feito que o Brasil há muito preparava com expetativa: o golo mil.
Foi num penalti, com o guarda-redes Andrada (que assim ficou também na história) pela frente, que o craque construiu mais um pedacinho dourado do seu trono. “Pela primeira vez tremi. Nunca senti tanta responsabilidade”, desabafou mais tarde o rei.
O momento ficou gravado em poema, pela inspiração de outro grande das letras brasileiras, Carlos Drummond de Andrade: “O difícil, o extraordinário, não é fazer mil golos como Pelé. É fazer um golo como Pelé”, escreveu o poeta, para assinalar o feito nunca antes visto.

A conquista da América
Depois do tricampeonato mundial com a seleção do Brasil, Pelé foi começando a preparar a despedida dos relvados brasileiros. Por um lado, algum desgaste à mistura com as críticas que lhe cobravam um elixir da juventude; por outro, o apelo cada vez mais crescente da América e de um mundo do showbiz rendido à grande estrela global do futebol. Pelé era um produto de marketing apetecível para a indústria do entretenimento norte-americana, mesmo que o soccer [na versão dos States) estivesse longe de ser o desporto preferido nos EUA.
A 18 de julho de 1971, mais de 140 mil pessoas foram ao Maracanã para ver o último jogo de Pelé com a camisola do escrete canarinho, o último ato do rei com a sua seleção. Foi num 2-2 contra a seleção da Jugoslávia, com o craque a jogar apenas a primeira parte, antes de abandonar o palco ao som de “Fica, Pelé” entoado pela “torcida”.
Três anos depois, numa despedida emocionada do Santos, Pelé deixou mais uma imagem icónica para a eternidade. A 2 de outubro de 1974, em jogo frente à Ponte Preta, o número 10 da Vila Belmiro jogou apenas 21 minutos – até se ajoelhar em pleno círculo central, de braços abertos para os adeptos, a chorar -e encerrando assim um casamento de 18 anos, seis meses e 26 dias, coroado com 1091 golos em 1116 jogos com a camisola santista. Pelé deu a volta olímpica na Vila Belmiro e desceu para o balneário, deixando para trás um legado que marcou a história do futebol.
Começou então a era de Pelé popstar. Transferiu-se para os Estados Unidos, onde foi o rosto principal da primeira grande aposta comercial norte-americana no futebol. Contratado pelo New York Cosmos em 1975, na maior transação do futebol até então (qualquer coisa como sete milhões de dólares), Pelé foi atração futebolística mas sobretudo figura da cultura pop da época, que os norte-americanos já consumiam como ninguém.
Entrou em filmes (Fuga para a Vitória, com Sylvester Stallone, o mais célebre), ensaiou umas participações musicais (lançou um LP com o pianista Sérgio Mendes, mas na verdade a veia já vinha de trás, tendo feito até dueto com Elis Regina antes do Mundial do México), foi presença requisitada em quase todos os grandes eventos sociais da época.
A última partida pelo conjunto norte-americano chegou a 1 de outubro de 1977, no Giants Stadium de Nova Iorque, num particular organizado para o efeito frente ao Santos. Pelé atuou meio tempo por cada equipa.
Depois de pendurar as chuteiras, tornou-se embaixador da ONU para Ecologia e Meio ambiente, embaixador da Boa Vontade da UNESCO, embaixador para a Educação, Ciência e Cultura também da UNESCO, e fez também uma incursão pela política, tendo feito parte do governo de Fernando Henrique Cardoso como Ministro dos Desportos do Brasil de 1995 a 1998.

Nunca se desligando do futebol, passaram a ficar famosas as previsões erradas de Pelé, como a de que o Brasil não passaria da primeira fase no Mundial de 2002, que a canarinha acabou por ganhar sob as ordens de Scolari, mas sobretudo as suas guerras verbais com o argentino Diego Maradona, o grande rival do brasileiro na discussão pelo estatuto de melhor futebolista do século XX – que a FIFA atribuiu ao brasileiro, em 2000, mas criando um especial de “melhor futebolista para os adeptos”, entregue ao argentino que acabou por morrer em novembro de 2020.
Na esfera pessoal, Pelé foi casado três vezes, com Rosemeri Cholbi, Assíria Lemos e Marcia Aoki, esta última em 2016, que deixa agora viúva. Tem sete filhos conhecidos. Três deles do primeiro casamento. Outros dois, gémeos, fruto da relação com a segunda mulher. Depois, foi obrigado a reconhecer judicialmente a paternidade de Sandra Regina Machado, que morreria de cancro em 2006 e que foi fruto de uma aventura com uma empregada doméstica, Anisia Machado. Também teve uma filha com uma jornalista, Lenita Kurtz.
Fonte e crédito da imagem: Diário de Notícias / Portugal