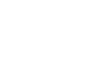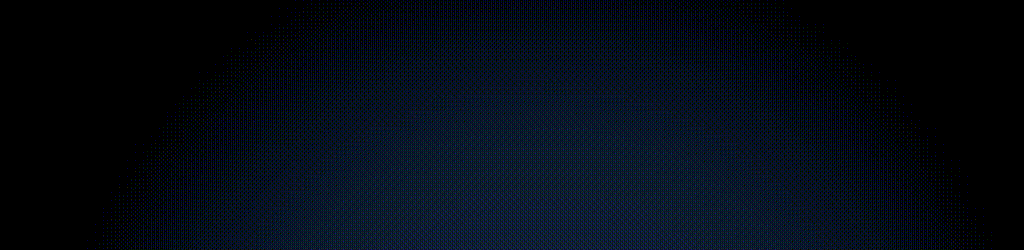Um investigador da Universidade de Coimbra concluiu, numa tese de doutoramento, que a ideia de “doçaria conventual” é um mito construído, defendendo que se deveria falar apenas em doçaria tradicional ou histórica portuguesa.
“[A ideia de doçaria conventual] é um mito criado. Os conventos também faziam doces, como toda a gente fazia. É um facto histórico que os doces feitos nos conventos circulavam fora dos conventos e com alguma valorização social por serem feitos naqueles lugares. Agora, que eles eram completamente diferentes do que existia cá fora? Não. Que eles eram secretos? Não”.
“[…]Deveríamos falar em doçaria tradicional portuguesa ou, num conceito mais académico, doçaria histórica portuguesa”, afirma à agência Lusa o docente e investigador João Pedro Gomes, que defendeu, em dezembro, na Universidade de Coimbra, a tese “A doçaria portuguesa — Origens de um património alimentar”.
Ao longo da obra com cerca de 700 páginas, o investigador discorre sobre as origens do património doceiro nacional, centrando-se entre o século XV e XVIII, onde considera estarem as bases da doçaria tradicional que ainda hoje prevalece, com algum espaço dedicado às dinâmicas que levaram à criação do conceito de doçaria conventual.
Em Portugal, a doçaria começa a desenvolver-se a partir do século XV, acompanhando o ritmo de produção de açúcar pelo país, que, no final do século XVI, se torna o principal produtor mundial.
Ainda no século XV, com a valorização da componente visual nas mesas dos nobres, o açúcar ganha protagonismo, por todas as suas possibilidades de brilhar nesse campo, ao ser manipulado em diferentes pontos.
Depois da “infância da doçaria”, no século XV, em que surge o queijo e o leite no doce (os “manjares de leite” com massas assadas ou fritas e recheadas), passa-se para a “adolescência da doçaria”, que se acredita ter começado na segunda metade do século XVI, com “a febre pelos doces feitos de ovos” e em que a “doçaria começa a ser usada e abusada nas mesas”, ao ponto de levar D. Sebastião a pedir às pessoas para não comerem doces.
“Aí, a gema é feita para tudo. São feitas folhas de gema para montar bolos, fazem-se ovos mexidos com açúcar e surgem aquilo que hoje chamamos de cornucópias, que eram chamados de canudos de ovos e que era exatamente um canudo de massa frita com ovos mexidos doces”, aclara o investigador.
Se há doçaria na mesa dos nobres, esta também aparece nos conventos, muitos deles (especialmente os femininos) espaços reservados para as classes altas da sociedade, ao contrário da ideia que se tem hoje daqueles lugares.
“Era preciso dar muito dinheiro, o chamado dote, para a rapariga entrar, para aquela freira se manter”, explica, sublinhando que os conventos das clarissas “eram tendencialmente conventos de classes privilegiadas” e vários mosteiros tinham associações a grandes famílias e até a dinastias.
Face à questão da classe socioeconómica associada a estes espaços, as mulheres levavam consigo determinadas práticas e hábitos.
“Não se podia pedir a uma mulher habituada a comer capão e perdiz em casa que fosse para ali comer restos de frango. Havia que manter alguma qualidade e algum estatuto. Em relação ao doce, ele funciona exatamente da mesma forma como funciona fora do convento – surge em épocas festivas e para cimentar ou criar laços entre hierarquias”, observa.
Como os mosteiros femininos estavam dependentes das ordens masculinas, era comum as freiras fazerem “grandes quantidades de doces para dar aos mosteiros masculinos aos quais estavam ligadas”, assim como a outras pessoas que se relacionavam com o convento.
Na tese, a doçaria como cimentação de laços sociais é apontada em vários casos, alguns deles associados a subornos, sendo relatada uma história de um estudante que compra marmelada e pessegada a freiras para subornar um administrativo da Universidade de Coimbra.
Apesar de rejeitar a ideia de doces feitos apenas por freiras, João Pedro Gomes constata que há “um reconhecimento social” dos doces criados em conventos, havendo várias provas dessa valorização ainda no século XVII.
Um desses casos é o livro “Arte da Cozinha”, de Domingos Rodrigues, do final daquele século, em que no esquema de um menu dá nota para que os pratos finais sejam doces comprados a freiras.
Para a sua valorização pode também contribuir a ideia do doce como “a forma material que existe de a freira e de um homem não religioso se relacionarem”, aponta.
“Entende-se, até pela literatura barroca do século XVIII, com algumas linhas meio eróticas, que o doce é a extensão do corpo da mulher. Ou seja, o homem não lhe pode tocar, mas pode comer algo feito por ela e fica todo deliciado, porque está a comer algo vindo das mãos de uma freira, com toda aquela fantasia do corpo enclausurado”, realça.
Os doces feitos nos conventos circulavam fora deles, mas nunca numa perspetiva “comercial”, referiu, notando que na muita documentação que há sobre os rendimentos daqueles espaços, em nenhuma aparece o lucro recebido por doces.
A valorização da doçaria feita naqueles lugares vai ganhando força para lá do período focado pelo investigador ao longo da sua tese, que aponta para o século XIX como altura em que se reforça o mito.
Com a extinção das ordens religiosas, as freiras vivem cada vez mais de esmolas e fazem-se valer dos doces para terem algum tipo de rendimento.
Ao mesmo tempo, alguns dos mosteiros passam a ter também funções educativas nas comunidades, onde meninas “passam a aprender o trabalho doméstico, a escrever e a ler e, obviamente, aprendem também a fazer doces”, afirma o investigador.
Em conversa com a Lusa, João Pedro Gomes admite que os conventos poderão ter tido algum papel na passagem de informação de receitas, mas volta a vincar que essa prática era comum na sociedade — o secretismo em torno do receituário é algo mais contemporâneo.
Nesse mesmo período, marcado pelo romantismo e pelo confronto entre liberais e não liberais em Portugal, há uma faixa conservadora da sociedade que se revê num passado perdido, que ajuda também a “balancear” a doçaria dos conventos.
A obra que será “a pedra de toque de toda a gente que formula a ideia de doçaria conventual” é um livro de receitas assinado pela abadessa do Mosteiro de Santa Clara de Évora, do início do século XVIII.
Esse manuscrito deixa “dúvidas académicas” a João Pedro Gomes, por usar elementos da cultura material como “chávena ou colher de sopa”, quando na altura usava-se “xícara” e apenas “colher, porque ainda não havia o conceito de colher de sopa”.
Ao longo do tempo, a ideia foi-se cimentando na sociedade portuguesa.
Entre os mitos, surge a ideia de que as freiras usariam as claras para engomar os seus hábitos e que terá sido pelo excesso de gemas que terão surgido os doces ricos em ovos.
“É uma historieta. Não temos qualquer prova escrita de que a roupa era engomada com claras e a única prova de como se engomava a roupa surge num manuscrito em árabe, na Península Ibérica, que faz referência ao uso de amido de trigo para engomar a roupa”, refere.
No meio de histórias e mitos, as pastelarias fazem valer-se da própria ideia de doçaria conventual para vender e comercializar doces, associando-lhes uma história, que muitas vezes não tem qualquer documento que a suporte, constata.
Há vários exemplos que contradizem aquilo que é o conhecimento popular: o pastel de nata não é de Belém (vem de França e originalmente em Portugal tinha pinhões) e a receita mais antiga que se conhece de sericaia é do Porto.
“Seria mais interessante valorizar a história de cada doce, porque todos têm uma história, que não tem de ser necessariamente antiga ou vinda de um convento”, vinca João Pedro Gomes.
Fonte e crédito da imagem: Diário de Notícias / Portugal