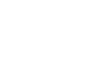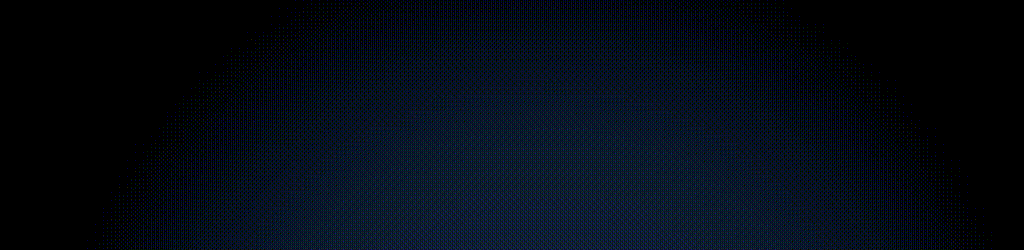Em vez de militares, hoje há turistas a ocupar a praça onde o Estado Novo chegou ao fim. Recordações do golpe militar de 1974? Só as de quem por ali viveu esse dia, e pouco mais do que placas evocativas.
João Ramalho lembra-se “de tudo”: “De manhã, andei a correr atrás deles. Para onde iam, eu ia atrás. Toda a gente andava atrás dos militares.”
Na altura, com 18 anos, viu “duas ou três prisões de gajos da PIDE”. Uma ao pé da Escola Passos Manuel, “que tinha pistola”, e uma outra, de “um informador que morava na Rua do Poço dos Negros”. O dia foi todo num corrupio. Bastava “ouvir-se que estava alguma coisa a acontecer e a malta corria para ver o que era”. Eram os primeiros passos do “dia inicial inteiro e limpo”, como escreveria Sophia de Mello Breyner.
Sentado numa cadeira à sombra dos jacarandás do Largo do Carmo, João recorda como viveu o 25 de Abril in loco. Passados 50 anos, ainda tem “uma boa memória”. Foi ali, metros ao lado do quiosque onde estamos, que as “chaimites, que hoje são tuk-tuks” pararam para fazer um cerco.
Lá dentro, onde agora é o Museu da GNR, Marcello Caetano refugiava-se dos militares do Movimento das Forças Armadas. Salgueiro Maia e os seus camaradas de armas entrariam, depois, pelo quartel adentro, exigindo a rendição do até aí presidente do Conselho de Ministros, que pedia que o poder não caísse nas ruas.
Uma multidão acompanhava tudo cá fora. João estava nas redondezas. “Quando foram disparados os tiros contra o quartel, estava ali”, lembra-se, apontando para uma tabacaria na Calçada do Carmo, “que na altura era uma casa de material elétrico”.

aqui já não existe.” (Leonardo Negrão / Global Imagens)
Só um tiro acertou numa janela, a principal, mesmo por cima da entrada do quartel. Todos os outros acertaram nas paredes, “que continuaram com buracos” passados alguns anos.
Testemunhar, assistir ao fim de 48 anos de ditadura, na primeira pessoa, é descrito com uma palavra: “Maravilhoso.”
Conta depois mais um episódio: “Houve, nesse dia, um PIDE que teve o carro virado. Estávamos aqui e ouvimos falar disso, que tinha acontecido ali para os lados da Misericórdia. Fomos ver e o carro estava todo tombado, e depois foi preso.”
Concretizada a 25 de Abril, a Revolução já se fazia adivinhar, clandestinamente. Filho de um GNR, João desde cedo “via uns papéis” aqui e ali.
“Apareciam constantemente, e o meu pai dizia que não era nada”, afirma, recordando: “Ele não queria que eu viesse para aqui nesse dia. Nem me queria dizer que tinha sido chamado para trabalhar. Depois, estive dois ou três dias sem o ver. Ele estava no Quartel da Ajuda, quando houve fogo por causa do Regimento de Lanceiros 2 [que era uma força adversa ao Movimento das Forças Armadas], e por isso só saiu uns dias depois.”

(Leonardo Negrão / Global Imagens)
Passadas quase cinco décadas desde o momento que João descreve como sendo “quase uma festa”, o Largo do Carmo continua apinhado de pessoas. Mas não para assistirem a um golpe militar.
Saímos do quiosque e caminhamos pela zona. O rebuliço de turistas dificulta a caminhada. Os grupos juntam-se todos, ora fotografando o quartel, ora ouvindo os guias que lhes explicam a importância do local. Há quem faça fila para entrar no Convento do Carmo, agora transformado em museu arqueológico. Ouvem-se línguas estrangeiras, do espanhol ao francês.
“Isto já não tem nada a ver com o que era”, assume João Ramalho. As casas que dantes eram habitadas, “agora, a maior parte são os chamados Alojamentos Locais”. Cafés “só já resta um”, materializado numa tímida esplanada na esquina mais distante do quartel. Mas João continua a viver ali, na Rua da Condessa. O seu filho e o seu neto também.
O ambiente, agora, é “totalmente diferente”: a “cabine telefónica da altura” também já não existe, a “paragem do [elétrico] 24” idem. Ambas “estavam cheias de malta” no dia 25 de Abril de 1974. Depois, “uns morreram, outros foram-se embora, e a maioria das pessoas que moravam aqui já não existe”.
A pessoa “mais velha que aqui morava e nasceu” era a sogra de João. O desenvolvimento da zona aconteceu “a partir do incêndio do Chiado”, em 1988, “isto desenvolveu-se mais e assim se mantém”.

Há, no entanto, algo que perdura: o quartel funciona e a GNR ainda por lá continua. O Comando-Geral está ali localizado, há guardas à porta, que até são requisitados por turistas, que pousam em fotografias para preservarem as memórias.
E memórias físicas da Revolução? Três marcos discretos: duas placas no chão e uma girândola de luz, inaugurada por ocasião dos 40 anos da Revolução dos Cravos.
Há um retrato de Zeca Afonso, em azulejo, numa esquina ao lado do Convento, junto ao Palácio dos Condes de Valadares. Um outdoor evocativo dos 50 Anos da Revolução é estendido na fachada do quartel, tapando a janela alvejada em 1974. E é tudo.
50 anos volvidos, João Ramalho, agora com 68, acha importante preservar-se a memória histórica. “Eram outros tempos. A malta vem para aqui, vem ver, e eu acho bem. É preciso que tenham uma noção daquilo que foi. Metade deles não saberá o que é o 25 de Abril e é importante mudar isso”, diz.
E o dia seguinte? “Fiz exatamente o mesmo e vim para aqui. Era empregado de balcão, numa loja de eletrodomésticos na zona do Cacém, onde tinha morado. Não fui trabalhar e vim para aqui outra vez.”
Celebrar o cinquentenário “será no mesmo sítio de sempre”, a sua casa é logo ali ao lado, diz João Ramalho.
A Revolução à distância e os preços que subiram
Uma ronda pelo comércio no Largo do Carmo mostra como está a zona atualmente. Na maior parte dos casos, os donos são, eles próprios, já filhos de Abril, ou não viveram a Revolução ali.
As marcas pré-25 de Abril estão sobretudo nos edifícios. Como aquele número 18 (à frente do qual param os tuk tuks), assinalado com uma placa na parede. Em tempos, um primeiro andar daquela casa foi habitado por Fernando Pessoa.
Na envolvente, há restaurantes, que servem comida do mundo e não só, com esplanadas cheias de turistas de diferentes proveniências. As lojas de souvenirs são algumas e há, até, uma sapataria com um ar mais clássico. Tudo aberto (pelo menos nos moldes atuais) no pós-25 de Abril, e propriedade de “putos que compraram isto aqui e ali”, como nos confessa uma lojista.

Carmo (na foto), uma multidão ocupou o espaço em frente ao quartel, onde se rendeu
Marcello Caetano. (Arquivo DN)
Numa mercearia, já na Rua da Condessa, quase paredes-meias com a casa de João, encontramos alguém que viveu o 25 de Abril à distância. Na altura radicado em Alcobaça, as preocupações de Álvaro Pinto eram outras. Não que a Revolução não fosse boa, mas as consequências não lhe agradaram.
“Vivi um bocado com chatices. Andava a fazer uma obra em Alcobaça, estava a começar. Tinha começado a 18 de maio [de 1973] e, depois do 25 de Abril, os preços começaram todos a subir”, recorda.
As “mudanças no convívio e nas pessoas” também passaram um pouco ao lado. O lamento como consequência da queda do regime é outro. “Foram os tijolos, foram as pedras, a areia, o cimento. Tudo o que empreguei na obra subiu de preço”.
Com 91 anos “feitos em fevereiro”, Álvaro Pinto comprou um apartamento na zona do Carmo em 1967. “A minha filha veio para cá estudar, e depois acabou por se casar. Comprámos a casa para não os chatearmos se viéssemos [Álvaro e a esposa] visitá-los e acabei a morar lá”, explica.
Diferenças nas pessoas e na liberdade de expressão e pensamento? Nada. “A mim qualquer coisa me serve. O 25 de Abril só me trouxe foi o aumento dos preços e da minha obra”, lamenta Álvaro Pinto, depois de sair da mercearia. De saco na mão, e do alto dos seus 91 anos, segue depois rua abaixo em direção a sua casa.
João Ramalho regressa entretanto ao lugar à sombra dos jacarandás e senta-se.
A praça mantém-se intacta, tal e qual como estava antes das memórias sobre a Revolução: um rebuliço de cabeças e chapéus ao sol, que aguardam em filas aqui e ouvem guias acolá.
A recordação do 25 de Abril passa por aí: pelos guias, pelo Museu da GNR, e pouco mais. Porque, hoje, o Carmo é um lugar distinto de há 50 anos. Mais multicultural, mais povoado, mas, sobretudo, mais livre de ser e de estar.
Fonte: Diário de Notícias / Portugal
Crédito das imagens: Leonardo Negrão / Global Imagens