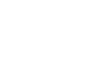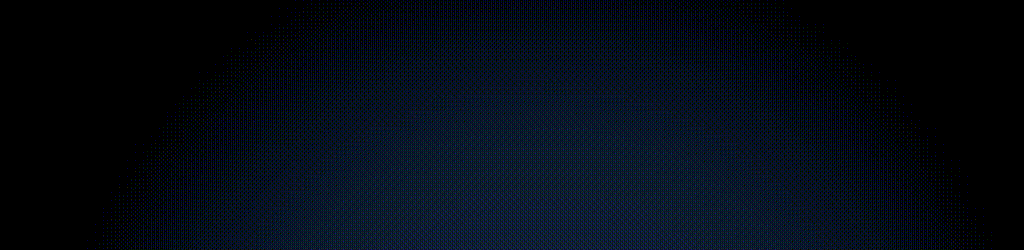Há alguns anos começámos a ouvir pessoas, inequivocamente sensatas e inteligentes, a usar uma frase capaz de atrair a insensatez e a indiferença: “Eu agora só vejo séries…” De forma tão triste quanto objectiva, essas pessoas demitiam-se dos prazeres, direitos e deveres de uma velha “profissão”: ser espectador de cinema.
Enfim, não se trata de “culpar” seja quem for (já bastam os golos do futebol que resultam do pobre defesa que não soube vigiar o avançado que apareceu ao segundo poste…), mas de recordar um axioma perverso com que aquelas pessoas foram ideologicamente agredidas e, nessa medida, condicionadas: tratar-se-ia de escolher entre duas alternativas, salas e plataformas de streaming, incensando uma e demonizando a outra.
Digamos apenas que, apesar das contradições internas do mercado, prevaleceu uma réstia de pragmatismo comercial ao longo de 2023, quanto mais não seja porque, com a bênção da Netflix (a entidade mais reticente em todo este processo), alguns dos títulos marcantes do ano foram objectos “híbridos”.
Assim, O Assassino, de David Fincher, e Maestro, de Bradley Cooper, puderam ser vistos nas salas antes de chegarem ao streaming da Netflix e não consta que tal decisão tenha afectado a contabilidade dos interessados. O mesmo se dirá de Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese, neste caso disponível na Apple TV+.
Sem esquecer que, ao longo dos últimos anos, Scorsese tem sido uma voz capaz de manter um discurso pedagógico de reconhecimento da importância das plataformas (desde logo pelos respectivos investimentos na produção), valorizando sempre as salas como um espaço de consumo que, além do mais, nos mantém em relação, prática e simbólica, com as raízes culturais e comerciais do próprio cinema.
Curiosamente, em alguns casos, os novos cruzamentos de salas e plataformas contribuíram também para desmentir as ideias (ou a falta delas) segundo as quais os ecrãs IMAX seriam uma coutada dos super-heróis da Marvel & afins.
Acrescentemos apenas o exemplo modelar de Oppenheimer, de Christopher Nolan, que comete a proeza de transfigurar os efeitos espectaculares do IMAX, a ponto de nos fazer ver, literalmente, que os grandes planos dos rostos humanos podem ser elementos fulcrais de uma narrativa pensada e filmada para um ecrã gigante.
Noutro contexto, isto é, no tradicional “ecrã largo”, próximo do clássico CinemaScope, observe-se o admirável sentido de composição de Nuri Bilge Ceylan, em As Ervas Secas, uma das derradeiras estreias do ano.
Através de tudo isto o que está em jogo é a persistência de um genuíno amor do cinema que, afinal, marcou de modo explícito alguns dos títulos descobertos ao longo de 2023.
Penso, obviamente, no ensaio lúdico de Mark Cousins, O Meu Nome É Alfred Hitchcock, mas também na “comédia política” de Nanni Moretti e nas reflexões propostas por Víctor Erice e Jafar Panahi, respectivamente em Fechar os Olhos e Ursos Não Há – o espanhol Erice voltando a assinar uma longa-metragem, 31 anos passados sobre a anterior (O Sol do Marmeleiro); o iraniano Panahi relançando, com sofisticado radicalismo poético, o desejo de filmar o seu país.
Num contexto de tantas crises, estes filmes e outros que não cabem neste balanço – penso, por exemplo, no português Vadio, de Simão Cayatte, mostrando que o tratamento do quotidiano pode e deve resistir aos estereótipos da telenovela -, tivemos filmes que nos garantem que o cinema não desistiu de se reinventar. O que, entenda-se, é também um excelente desafio para qualquer espectador.
TOP filmes
1. O Assassino, de David Fincher
2. Tár, de Todd Field
3. Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese
4. Fechar os Olhos, de Víctor Erice
5. Oppenheimer, de Christopher Nolan
6. Maestro, de Bradley Cooper
7. Ursos não há, de Jafar Panahi
8. As Ervas Secas, de Nuri Bilge Ceylan
9. O Sol do Futuro, de Nanni Moretti
10. O meu nome é Alfred Hitchcok, de Mark Cousins
Texto: João Lopes
As mais belas exceções
por Rui Pedro Tendinha
Doze meses depois há as contas e as certezas. As contas são complexas e à vista desarmada parecem dizer que ninguém quis ver cinema português – muitas estreias de filmes portugueses com menos de meia centena de bilhetes vendidos ou a tragédia de um país que está alérgico a ouvir a sua língua numa sala onde se incentiva ao consumo de pipocas.
Mas se os números são a vergonha do próprio público, os filmes, os bons, vão aguentar o teste do tempo e ficam, ficarão por muitos anos. Quando daqui a umas décadas se falar de 2023, falar-se-à de colheita histórica. O ano glorioso que ninguém celebrou.
Mas, realçando, os filmes têm muitas vidas e alguns deles conseguiram feitos com a sua qualidade: Ice Merchants, de João Gonzalez, foi um papa-prémios nos melhores festivais de animação, venceu os Annie (os Óscares de animação) e foi nomeado ao Óscar da melhor curta de animação, enquanto Mal Viver, de João Canijo, foi à Berlinale conquistar o Urso de Prata, o prémio internacional mais importante do nosso cinema em muitos anos. Chegar aos Óscares e ao palmarés de um festival de lista A é então um sinal.
Se em Ice Merchants encontrámos uma vertigem de uma beleza sinfónica que comovia, no díptico Mal Viver/Viver Mal, Canijo acertava flagrantemente em cheio numa angústia tão portuguesa como sueca (sim, mestre Ibsen é cúmplice). Dois filmes que vistos de uma vez são um abalo emocional transformativo. E porque a debandada nas salas tem que se lhe diga, Canijo é dos poucos que não se pode queixar: houve público para esta neurose cruel feminina.
Na excepção pode estar o ganho e, na verdade, um filme radical como o mergulho em Pessoa de Edgar Pêra chamado Não Sou Nada também nos deixa a pensar. Em poucas cópias conseguiu média de espetadores notável, bem superior a muitos filmes que estreavam com muitas cópias, como esse exemplo de não cinema intitulado Um Filme do Caraças. Outra das exceções com ironia é a belíssima estreia de Eduardo Brito, A Sibila, ter feito mais espectadores do que supostos objetos “comerciais”.
A justiça ou injustiça das bilheteiras nada tem ver com cinema. E se é um escândalo o melhor filme português do ano, Onde Fica esta Rua? ou Sem Antes nem Depois, de Guerra da Mata e João Pedro Rodrigues, apenas ter convocado 717 almas, a verdade é que o filme viajou pelos melhores festivais e será um imortal filme de companhia a Os Verdes Anos, de Paulo Rocha. Aliás, os outros grandes títulos nacionais do ano também foram olimpicamente ignorados por todos, que o digam Susana Nobre e o doloroso Cidade Rabat, Marco Martins e o magnífico Great Yarmouth- Provisional Figures; Filipa Reis e João Miller Guerra e Légua ou Carlos Conceição e o celebrado Nação Valente.
Um ano português onde também os atores foram primordiais: veja-se o peso de Beatriz Batarda na odisseia de Great Yarmouth ou o peso de Rui Morisson em Sombras Brancas, de Fernando Vendrell, outra das obras que ninguém percebeu que tinha chegado às salas.
TOP filmes
1. Maestro, de Bradley Cooper
2. Dias Perfeitos, de Wim Wenders
3. O Pub Old Oak, de Ken Loach
4. Império da Luz, Sam Mendes
5. O Sol do Futuro, de Nanni Moretti
6. Aftersun, de Charlotte Wells
7. Holy Spider, de Ali Abbasi
8. Missão Impossível: Ajuste de Contas Parte Um, de Christopher McQuarrie
9. Os Passageiros da Noite, de Mickael Hers
10. Onde Fica esta Rua? Ou Sem Antes nem Depois, de João Guerra
Que o cinema continue a dar-nos música
Por Inês N. Lourenço

Um dado curioso: no ano em que a vitória (previsível) de Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo abanou a estrutura dos Óscares com uma mudança de paradigma, os super-heróis estão em crise. Chamam-lhe superhero fatigue e é possível que se tenha refletido num fenómeno feliz. A saber, uma vontade geral de devolver o espírito adulto aos blockbusters.
Tivemos uma tentativa interessante de James Mangold com o seu Indiana Jones e o Marcador do Destino, mas a ideia do grande cinema ação teve os seus melhores sintomas em Missão: Impossível – Ajuste de Contas – Parte Um, de Christopher McQuarrie, e John Wick: Capítulo 4, de Chad Stahelski, este último um fecho espetacularmente “musical” da série de filmes que transformou Keanu Reeves num corpo que dança… com armas.
Quando digo musical não é em referência ao género: o quarto filme de John Wick é ação pura e cristalina. O que não impede que o saldo da sua vibrante coreografia seja uma peculiar experiência melódica. Tudo a ver com um ano de estreias que nos deu Maestro, de Bradley Cooper, e Tár, de Todd Field, dois retratos de regentes de orquestra que ilustram diferentes expressões de Hollywood – Maestro é o herdeiro supremo de um romantismo clássico, e Tár um aluno prodígio da escola de Kubrick.
Filmes que poderão ter começado uma tendência, já que antes deles não se encontram exemplos tão nítidos, do ponto de vista dramático, da figura do maestro no grande ecrã.
O filme de Bradley Cooper, em particular, centrado na relação entre Leonard Bernstein e Felicia Montealegre, surge como uma forma de resistência aos encargos do biopic, escolhendo um ângulo (romântico, lá está) fiel aos princípios de um certo cinema americano que não está nem aí para se adaptar ao volume imenso de uma biografia. O que importa é a pérola dentro da ostra.
E pérolas foi também o que nos deram alguns dos distribuidores independentes portugueses, que recuperaram títulos inéditos, nomeadamente, das décadas de 1950/60, lutando por uma cinefilia depauperada pelo streaming. Recordamos sobretudo a integral da realizadora Kinuyo Tanaka, por cá conhecida apenas como atriz de Mizoguchi e Ozu, de quem se estrearam seis filmes; uma tremenda obra completa resgatada do esquecimento, à semelhança de outras obras de realizadoras do passado que estão a ser redescobertas.
Mas é de louvar também esforços de distribuição como o ciclo Mestres Japoneses Desconhecidos (tal como a Tanaka, da autoria da The Stone and The Plot), que este ano teve a sua terceira réplica, com um filme que acabou por ser um verdadeiro êxito: O Som do Nevoeiro, de Hiroshi Shimizu. Há poucas semanas chegaram aos cinemas dois “novos” títulos de Ozu (pela Leopardo Filmes), História de um Proprietário Rural e Crepúsculo em Tóquio, ainda em exibição, e no verão tivemos outros dois inéditos de Maurice Pialat. Dava para fazer uma lista dos 10 melhores clássicos que nos chegaram este ano, fora do seu tempo. Mas o importante é vê-los a todos, sem deixar de confiar que o cinema contemporâneo está vivinho da silva!
TOP filmes
1. Maestro, de Bradley Cooper
2. Trenque Lauquen, de Laura Citarella
3. Céu em Chamas, de Christian Petzold
4. Dias Perfeitos, de Wim Wenders
5. R.M.N., de Cristian Mungiu
6. Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese
7. Tár, de Todd Field
8. Aftersun, Charlotte Wells
9. John Wick: Capítulo 4, de Chad Stahelski
10. O Sol do Futuro, de Nanni Moretti
Fonte e crédito da imagem: Diário de Notícias / Portugal